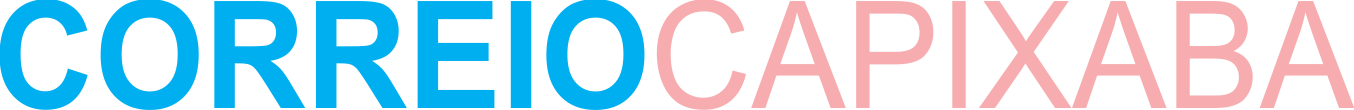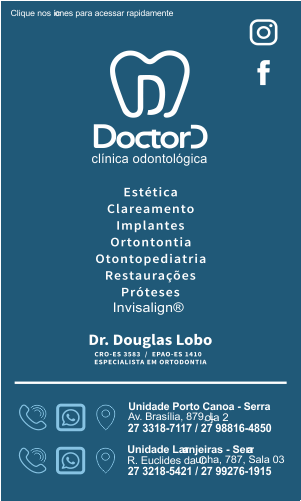ECONOMIA NACIONAL
A deflação na economia reaparece depois de 11 anos
Afinal, é bom ter deflação? As respostas dos economistas são variadas.
Em 07/07/2017 Referência CORREIO CAPIXABA - Redação Multimídia

A deflação não dá as caras na economia brasileira há 11 anos. Agora, economistas apostam que ela voltará ao radar constantemente.
Nesta sexta-feira (7), o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) deve apresentar a primeira deflação para um mês no Brasil desde junho de 2006.
O consenso dos economistas para o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) é de – 0,15%. Para o final do ano, no entanto, a aposta é de que haja inflação de 3,48%.
Afinal, é bom ter deflação? As respostas dos economistas são variadas.
Isso acontece porque, como há um histórico de lutas contra a escalada de preços, criou-se o entendimento popular de que inflação é maligna. Neste raciocínio, o seu oposto, a deflação, só pode ser benigna.
Mas não é bem assim. Os economistas lembram de casos como o do Japão, a da Alemanha, o do Reino Unido e até mesmo dos Estados Unidos, que lutam contra a deflação de maneira tão vigorosa quanto o Brasil contra a inflação.
Desde os anos 1980, o Banco do Japão (o banco central nipônico) implementa medidas para dar uma animada nos preços. As últimas datam do início de 2016, quando a autoridade monetária decidiu simplesmente pagar juros negativos.
Isso mesmo. Caso alguém decida investir R$ 100 em títulos japoneses, após um ano, ele valerá apenas R$ 99,99. Os juros “pagos” são de – 0,1%.
Além disso, o país compra do mercado todo ano cerca de 80 trilhões de ienes, aproximadamente R$ 2,3 trilhões, o que representa 34% do PIB brasileiro. Com essas medidas, em maio, o Japão conseguiu alcançar uma inflação acumulada em 12 meses de 0,4%.
Tudo em excesso é ruim. Inflação demais corrói o poder de compra da população, faz o governo elevar taxas de juros para drenar recursos do mercado e, como consequência, acaba prejudicando a economia como um todo.
Por sua vez, inflação de menos tende a desestimular o consumo, pois o consumidor espera que os preços baixem até um melhor momento de compra. Isso desestimula a produção, o setor financeiro e acaba por jogar o país em uma trajetória descendente.
Em todos os países citados, seus bancos centrais buscam uma meta anual de inflação de 2% ao ano. No Brasil, essa meta é de 4,5%. Esses objetivos são definidos de acordo com a capacidade de produção e consumo de cada economia e, ao alcançá-lo, significa que a evolução dos preços tende a ajudar no crescimento do País, gerando mais produção, mais consumo e mais emprego.
A mão pesada do Banco Central
O problema é que os líderes da economia brasileira não tem conseguido acertar a mão em sua política monetária de forma a atingir essa meta. Ora se extrapola na redução da taxa básica de juros, a Selic, estimulando uma alta rápida, ora se exagera no aumento dessa taxa, deprimindo a força de consumo.
Sem falar nas manobras políticas para contenção de preços, como o controle das taxas de energia e água e dos preços de combustíveis, que aconteceram durante o primeiro mandato da ex-presidente Dilma Rousseff.
Quando a pressão desses itens é grande o suficiente para o governo não conseguir mais contê-los, acontece o se passou em 2015. Neste ano, IPCA chegou a 10,7%, mais do que o dobro da meta.
Para o ex-diretor do Banco Central, Carlos Thadeu de Freitas Gomes, a deflação tende a aparecer outras vezes até o fim do ano. Em sua visão, isso é resultado da má gestão da taxa de juros aliada a uma recessão ainda mais profunda do que estava sendo prevista pelo governo.
Pode até parecer que os preços estão comportados e os consumidores podem ficar mais tranquilos em relação a seu poder de compra. No entanto, a verdade é outra, segundo Gomes.
“Não há qualquer pressão inflacionária vinda do exterior, como alta de preços de commodities ou elevação abrupta de juros de outros países. Com um risco Brasil mais baixo e o câmbio comportado, o BC poderia ter iniciado mais cedo o corte das taxas de juros. O BC errou na dosagem. Mas se algo acontecer lá fora, o Brasil poderá sofrer. Os juros vão iniciar uma nova escalada, com forte impacto nas contas públicas”, diz o economista.
O Banco Central, desde outubro de 2016, vem realizando cortes seguidos na taxa Selic, a fim de conter uma queda acelerada da inflação. Antes disso, os juros estavam em 14,25% e agora estão em 10,25%. O otimismo sobre a evolução dos preços é alta e o governo até baixou as metas de inflação de 2019 e de 2020, para 4,25% e 4%, respectivamente.
“Isso não passa de desejo ilusório, um wishful thinking, para ficar no economês. Enquanto não estivermos em uma rota fiscal benigna, essa redução não significa nada na prática. Isso só vai acarretar em uma elevação de juros no longo prazo”, alerta Gomes.
Deflação em boa hora
O economista-chefe da Austin Rating, Alex Agostini, tem outro entendimento. Ele diz que, quando a deflação é estrutural, ela deve ser combatida. Mas, no caso do Brasil, ela é conjuntural, ou seja, causada por fatores sazonais e que não devem se repetir. “Quando há uma boa safra de alimentos ou os preços de commodities caem, isso gera uma pressão deflacionária. Nesse momento, ela ajuda a colocar os preços no lugar, a gerar uma inflação de longo prazo mais baixa”, afirma Agostini.
Ele relembra o último episódio de deflação estrutural sofrido pelo Brasil, em 1998, durante o auge da crise dos Tigres Asiáticos. “Naquele momento, os fatores produtivos levaram à deflação. Precisou-se resgatar a confiança das pessoas para que elas voltassem a consumir. Não é o caso de agora”, diz Agostini.
Por fim, o economista-chefe da Austin Rating explica que dentre todos os fatores que compõem o indicador IPCA, cerca de 20% deles são influenciados por itens com preços administrados, como energia, água, combustíveis.
“A maioria dos preços administrados referem-se a concessões. Pelos contratos, seus preços automaticamente são reajustados pelo IPCA. Outros fatores ajudam a elevar esses preços, o que faz com que os repasses ao consumidor sejam ainda maiores. Então, quando um IPCA fica baixo, próximo de 3%, que é o que queremos para este ano, o repasse para o ano seguinte é muito menor”, diz.
(Crédito: ANDRE LESSA/ISTOE.)